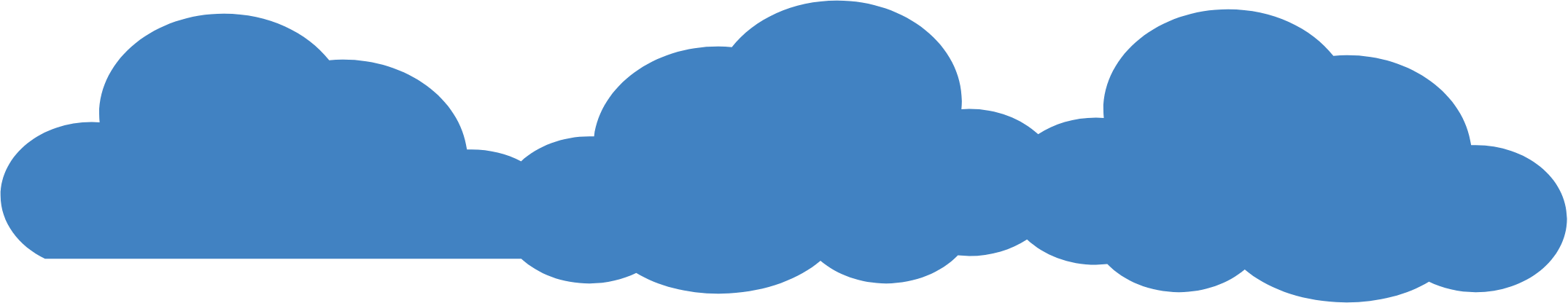Existe um silêncio social quando o assunto é adolescência no autismo.
Durante a infância, há terapias, intervenções, reuniões escolares e uma rede, ainda que falha, de suporte. Mas, à medida que o corpo cresce, os hormônios entram em cena e as exigências sociais aumentam, o discurso muda. Ou melhor: desaparece.
A adolescência autista não é uma pausa no desenvolvimento. É um período de intensa reorganização neurológica, emocional e corporal. O cérebro passa por ajustes importantes, a regulação emocional se torna mais desafiadora e a percepção de si e do outro se complexifica. Sentimentos ganham volume, o mundo fica mais barulhento e as cobranças externas aumentam.
Nesse contexto, falar de autonomia não é falar de independência absoluta. É falar de condições reais para que o jovem possa se autorregular, fazer escolhas e experimentar o mundo com segurança. Autonomia não nasce espontaneamente aos 18 anos. Ela é construída, pouco a pouco, na adolescência.
Falo disso também a partir de um lugar muito concreto. Meu filho, Filipe, está atravessando a adolescência agora. Ansioso para completar 14 anos e começar a trabalhar, ele já fala sobre conquistas, planos e estudos. Ao mesmo tempo, está se conhecendo emocionalmente, absorvendo as mudanças do próprio corpo, lidando com sentimentos intensos e aprendendo, dia após dia, a se autorregular em um mundo que ainda exige muito mais adaptação dele do que de si mesmo.
É nesse entremeio, entre sonhos, transformações hormonais, descobertas emocionais e expectativas sociais, que muitos jovens autistas se encontram. E é justamente aí que o discurso social costuma falhar.
O problema é que, socialmente, a adolescência autista costuma ser tratada como um corredor estreito entre a escola e o nada. Pouco se fala sobre o que vem depois. Pouco se prepara esse jovem para ocupar espaços sociais mais amplos. E menos ainda se prepara a sociedade para recebê-lo.
O primeiro trabalho, muitas vezes na modalidade de jovem aprendiz, surge como um marco importante. Ele representa pertencimento, identidade e reconhecimento social. Mas também pode se tornar um ponto de ruptura quando empresas não compreendem que inclusão não é boa vontade, é estrutura.
Não falta capacidade
Jovens autistas chegam ao mercado de trabalho com competências, interesses específicos e grande potencial. O que frequentemente falta não é capacidade, mas ambientes que compreendam diferenças na comunicação, no processamento sensorial, no tempo de adaptação e na forma de aprender.
Quando ignoramos isso, o discurso de inclusão se esvazia. O jovem é contratado, mas não sustentado. É incluído no papel, mas excluído na prática. E o fracasso, mais uma vez, recai sobre o indivíduo, e nunca sobre o sistema.
Se a adolescência autista é atravessada por mudanças profundas, o ingresso no trabalho deveria ser acompanhado por responsabilidade coletiva. Isso envolve escolas que dialogam com o futuro, famílias que não carregam sozinhas esse processo e empresas que compreendem que diversidade exige preparo, escuta e revisão de cultura organizacional.
A adolescência autista não termina na terapia porque a vida não termina na clínica.
Ela acontece nos corredores das empresas, nos ambientes de trabalho e nas relações sociais.
Enquanto não entendermos isso, continuaremos chamando de inclusão aquilo que, na prática, ainda é apenas expectativa.