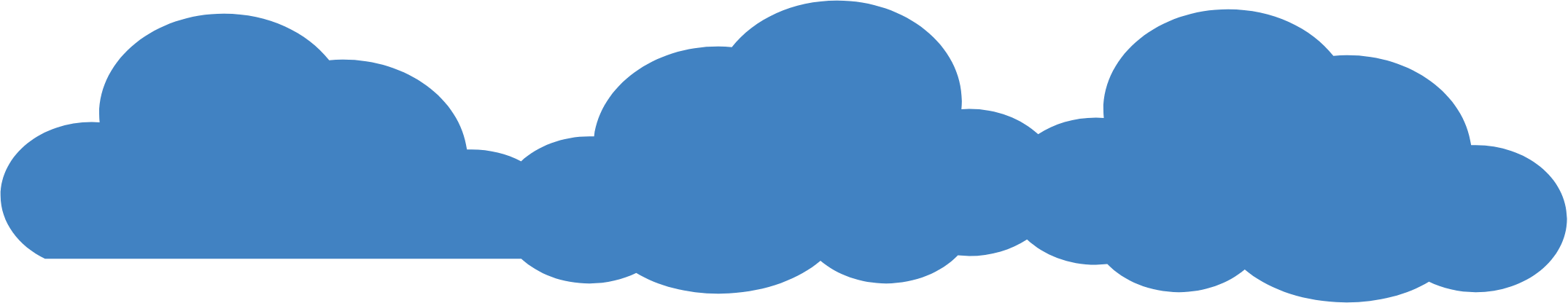A maternidade atípica é, muitas vezes, um território solitário e silencioso. Um isolamento que não é escolha, mas imposição. Um confinamento social e afetivo que se intensifica conforme nossos filhos crescem e suas necessidades tornam-se mais complexas. A mulher que se tornou mãe de uma pessoa com deficiência severa ou múltipla sente, dia após dia, partes de si sendo deixadas para trás.
Esse apagamento não é espontâneo — ele é arquitetado pela estrutura social, reforçado por um sistema que exclui e marginaliza. Frequentemente, essas mães estão sozinhas, sem companheiro, e enfrentam dificuldades econômicas que se somam à carga emocional e física da rotina de cuidados.
Os “nãos” chegam disfarçados: amigos que se afastam por “falta de tempo”, espaços que “não são adequados” para nossos filhos, convites que cessam, portas profissionais que se fecham. A ausência de uma rede de apoio transforma o cotidiano em um campo de batalha invisível. A mulher cuidadora se torna uma identidade única, quase obrigatória, sobrepondo e sufocando todos os outros papéis que um dia ela ocupou — profissional, parceira, amiga, amante de si mesma.
Com o tempo, você deixa de ser interessante para um diálogo, para um passeio, para uma viagem. Sua presença passa a ser vista como um peso. Você se torna um “custo” aos olhos de muitos — emocional, logístico, financeiro e social. E isso dói. Dói mais do que qualquer solidão: ser invisível, ser evitada, ser descartada.
A empatia, quando vem, é rasa. A solidariedade, quando chega, é emergencial, quase sempre provocada por um pedido de socorro. E, estatisticamente, o abandono do parceiro é frequente: em cerca de 80% dos casos, eles se afastam, dizendo “não foi isso que eu escolhi”, muitas vezes encorajados por familiares e amigos que reforçam: “esse fardo não é seu”.
A verdade crua é que só entende quem vive. Só acolhe de verdade quem também sentiu a mesma dor. Existe, sim, uma rede de afeto entre mães atípicas, forjada na dor e na força, no apoio mútuo que vem de quem sabe que cuidar de um filho com deficiência não é um fardo, é amor — mas um amor que exige estrutura, políticas públicas, espaços acessíveis, jornadas possíveis e, sobretudo, humanidade.
E é nesse ponto que precisamos resistir.
O isolamento não pode ser naturalizado. A ausência de apoio não pode ser aceitável. Precisamos redesenhar a cidade, as relações, os serviços — tudo aquilo que forma a vida em sociedade — para que incluam mães e filhos com deficiência como parte ativa, produtiva e pertencente.
Essa é uma urgência que não cabe apenas às mães. É coletiva, é política, é civilizatória. É preciso garantir às mães cuidadoras o direito ao trabalho, ao descanso, ao lazer, ao amor, ao futuro. Porque uma sociedade que isola suas mulheres mais dedicadas é uma sociedade que ainda não aprendeu a cuidar de ninguém.