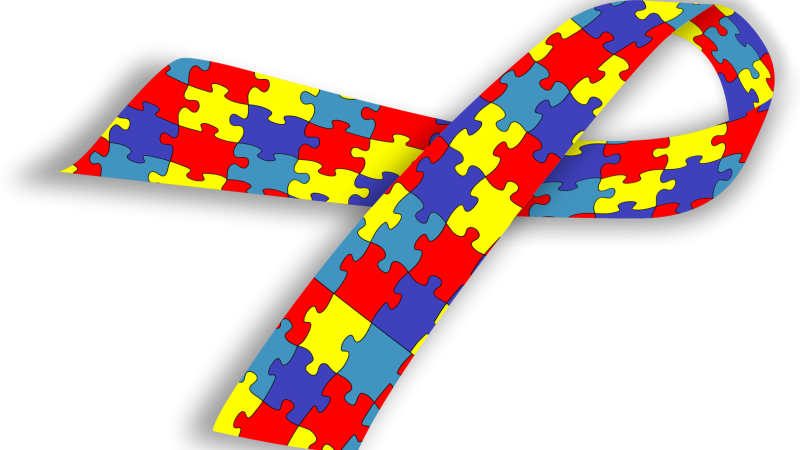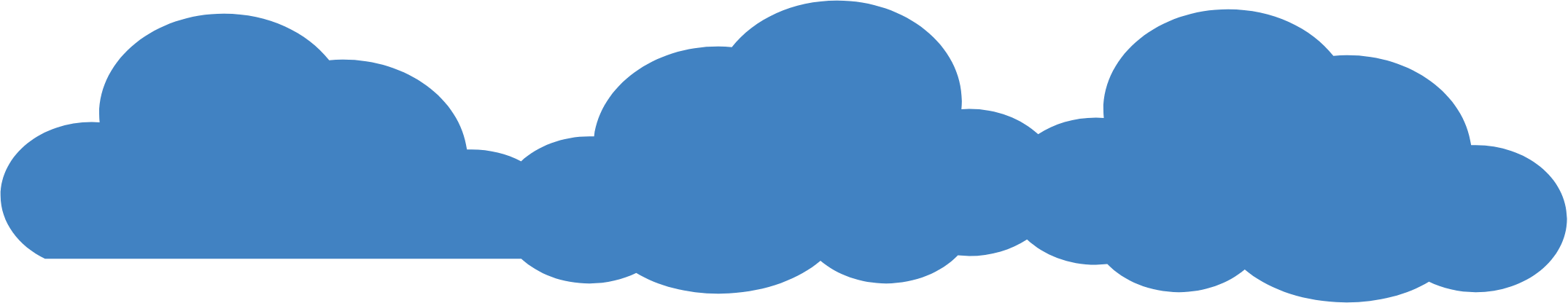Por Roy Richard Grinker, no “The New York Times“
Quando revejo os vídeos caseiros da minha filha Isabel, vejo claramente os sinais de autismo. Mas, em 1992, eu não conseguia. O autismo ainda era considerado raro. Em um vídeo, quando Isabel tinha 15 meses, ela aparece sentada em silêncio, colocando moedas em um cofrinho. Não responde ao ouvir o próprio nome nem olha para nós. Minha esposa e eu ficamos maravilhados com sua concentração e precisão, e até previmos que ela se tornaria cientista.
Numa coletiva de imprensa amplamente aguardada em 22 de setembro, o presidente Donald Trump declarou que não havia “nada mais importante” em seu governo do que reduzir a prevalência do autismo. Ele afirmou que sua administração praticamente eliminaria a condição, que chamou de “crise horrível”, e que um alto funcionário da saúde federal chegou a sugerir que poderia ser “totalmente evitável”.
O projeto do governo partia da ideia de que um diagnóstico de autismo é uma tragédia e de que cientistas e médicos falharam em impedir o que o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., chamou de “epidemia”.
Mas a ciência não falhou. Uma das razões pelas quais ainda temos tantas perguntas sobre o autismo é justamente o fato do quanto já aprendemos sobre ele e como enfrentá-lo. Milhares de pesquisadores e clínicos altamente qualificados produziram uma quantidade extraordinária de informações sobre a genética e a neurobiologia do autismo, desenvolveram métodos confiáveis de detecção precoce, ampliaram a educação especial e melhoraram as terapias comportamentais e médicas. Pensar o contrário é ignorar deliberadamente a história e a complexidade atual do autismo.
Isabel tinha 2 anos e meio quando recebeu o diagnóstico de “Transtorno Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação” (PDD-NOS, na sigla em inglês), um termo hoje obsoleto que se referia a alguém com autismo e com necessidades de apoio relativamente baixas, ou que não preenchia todos os critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-III-R).
Anos mais tarde, quando perguntei ao nosso médico se ele havia considerado diagnosticar Isabel com autismo, ele confessou que tinha medo de que a palavra nos devastasse. Nos anos 1990, autismo era um diagnóstico assustador, que sugeria um futuro sombrio para a criança. Ele também sabia como os pais costumavam se culpar pelos problemas dos filhos. Minha esposa e eu chegamos a buscar em nossas memórias algo que tivéssemos feito de errado — um produto químico usado durante a reforma da casa nova, ou até mesmo aquele passeio de montanha-russa antes de sabermos da gravidez.

É fácil esquecer o quão recentemente o autismo se tornou um diagnóstico comum e um termo presente no cotidiano. É fácil esquecer o quanto pesquisadores e clínicos sabiam pouco sobre transtornos do desenvolvimento, sobre como marginalizávamos pessoas com os sintomas que hoje chamamos de autismo, estigmatizávamos essas famílias e negávamos educação às crianças. Sem o conhecimento desse passado, corremos o risco de tomar decisões políticas que atrasem o progresso científico e social.
O que aprendemos com dezenas de estudos rigorosos é que, ao contrário do que afirma Kennedy, vacinas não causam autismo. Hoje, sabemos que mais de cem genes estão associados à condição, interagindo não apenas entre si, mas também com o ambiente e a experiência de cada indivíduo ao longo da vida. O neurogeneticista Stanley Nelson disse uma vez: “Se você tivesse cem crianças com autismo, poderia haver cem causas genéticas diferentes.”
Pesquisadores acreditam cada vez mais que a busca por uma causa única do autismo é equivocada. Existem autismos, e não apenas um autismo. A diversidade de sintomas, a gravidade deles e a variedade de fatores biológicos envolvidos são simplesmente grandes demais para serem reduzidos a um único transtorno uniforme. A neurobiologia é complexa demais para explicações simplistas.
Quanto mais aprendemos, mais percebemos que as respostas científicas para perguntas como “O que causa o autismo?” ou mesmo “O que é o autismo?” levarão tempo para ser descobertas, independentemente da pressa de governantes.
Hoje, quando meus alunos das aulas de antropologia da saúde mental me perguntam sobre a história do autismo, costumam formular assim: “Quando é que isso virou uma coisa?” Eu sei que querem saber quando o autismo passou a ser amplamente reconhecido, mas gosto de interpretar a questão da seguinte forma: “Como começamos a acreditar que o autismo é algo real?”
Coleção de sinais
Médicos desenvolveram o conceito de autismo para dar sentido a um conjunto de características que frequentemente ocorrem juntas, mas que antes não eram agrupadas sob um único termo. O autismo é uma coleção de sinais e sintomas, sem um processo patológico único e identificável. O termo não surgiu porque se descobriu algo novo, como uma bactéria ou um vírus que pudesse ser detectado em laboratório.
Meus alunos geralmente se surpreendem ao descobrir quão instável é o conceito de autismo. Derivado do grego autos, que significa “eu”, o termo “autístico” era usado no início do século 20 para descrever adultos com esquizofrenia que pareciam absorvidos em seus próprios mundos internos e pensamentos privados. Já nos anos 1940, clínicos passaram a interpretar sintomas de autismo em crianças como evidência de esquizofrenia infantil — uma condição hoje considerada extremamente rara.
Só entre os anos 1960 e 1970, quando a psiquiatria infantil começava a se firmar como especialidade, médicos passaram a diferenciar com mais clareza o autismo da esquizofrenia. Mas ainda havia divergências: alguns defendiam que o diagnóstico deveria se restringir a crianças com inteligência média ou acima da média; outros achavam que deveria incluir também aquelas com deficiência intelectual ou problemas médicos adicionais, como epilepsia.
As famílias também sofreram um estigma particular nessa época. O influente escritor Bruno Bettelheim convenceu muitos de que o autismo era causado por um único fator ambiental: mães “geladeira”, mulheres instruídas, frias e distantes, que, segundo ele, negligenciavam os filhos.
Sem qualquer evidência legítima, Bettelheim culpou uma geração inteira de mães amorosas e incentivou famílias a enviarem seus filhos autistas para instituições residenciais sombrias, afastando-os das mães e de seu “leite negro”. Embora a psicanálise tenha perdido força nos anos 1970, a influência de Bettelheim ainda persistia. Em 1994, um renomado especialista em autismo nos Estados Unidos chegou a dizer a minha esposa que, se quiséssemos que nossa filha melhorasse, ela deveria largar o trabalho e virar dona de casa. Ele nunca sugeriu o mesmo a mim.

A busca por explicações simplistas também continuou. Em 1998, o médico britânico Andrew Wakefield publicou no “The Lancet” um artigo sobre 12 crianças que teriam perdido rapidamente habilidades após tomarem a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola). Mais tarde, descobriu-se que ele havia distorcido os dados: muitos sintomas apareceram antes da vacinação e outras crianças nem sequer tinham autismo.
O artigo foi retratado e Wakefield perdeu a licença médica, mas o estrago estava feito. O mito de que vacinas causam autismo persiste até hoje, apesar de inúmeros estudos, com milhões de crianças, demonstrarem que não há relação. Agora, o próprio presidente dos EUA ecoava alegações desacreditadas sobre crianças “perdidas” para o autismo por causa de vacinas.
Nas últimas três décadas, vi inúmeras tentativas de encontrar causas específicas para o autismo — algumas cientificamente plausíveis, como mutações genéticas em esperma de pais mais velhos ou altos níveis de testosterona pré-natal; e outras absurdas, como televisão e leite pasteurizado.
Trump chegou a afirmar, em 2000, que “as taxas de autismo aumentaram em mais de 400%”. Mas a definição de autismo mudou tanto ao longo do tempo que comparar estatísticas de diferentes épocas é enganoso.
Quando o “autismo infantil” foi incluído pela primeira vez no manual diagnóstico de 1980, era definido de forma tão restrita que poucas crianças se enquadravam. Já nos anos 1990, quando Isabel foi diagnosticada, a categoria havia sido ampliada para “transtorno autista”, com critérios mais flexíveis.
Surgiram os subtipos
Na versão seguinte, o DSM-IV de 1994, a expansão continuou: surgiram subtipos, como a Síndrome de Asperger, usada para descrever crianças sem atrasos significativos de linguagem. Era visto como menos estigmatizante e oferecia uma forma de tranquilizar os pais. Mas havia dificuldades em diferenciar os subtipos com clareza. Em 2013, no DSM-5, os subtipos foram eliminados e o autismo passou a ser entendido como um espectro contínuo.
Hoje, Isabel se enquadra no diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), uma categoria tão ampla que inclui desde pessoas que não falam e precisam de apoio intensivo até aquelas que trabalham nos mais altos níveis da academia, do governo e da tecnologia. Para Isabel, o que importa não são os manuais de diagnóstico, mas as experiências que moldam sua vida: é o autismo que lhe dá ouvido absoluto, habilidade para montar quebra-cabeças complexos e um senso de humor peculiar.
Alguns autodefensores autistas argumentam que o autismo não deve ser considerado um transtorno ou deficiência, mas uma forma diferente de ser humano. Outros, no entanto, lembram que a condição pode vir acompanhada de desafios severos, como epilepsia, deficiência intelectual e comportamentos autolesivos. Para chamar a atenção a esses casos, alguns sugerem o termo “autismo profundo”.
A classificação de doenças, no entanto, é menos baseada em fatos biológicos do que em consensos científicos e sociais de determinados momentos históricos. É um processo dinâmico de mudanças, seja no autismo, na hipertensão, no diabetes tipo 2 ou na obesidade. Não é impossível que, no futuro, o termo “autismo” deixe de existir e seja substituído por uma linguagem mais precisa, voltada a descrever comportamentos, caminhos biológicos ou genéticos.
Categorias diagnósticas raramente refletem limites claros entre saúde e doença. Ninguém sabe exatamente quando a ansiedade adaptativa que nos faz olhar para os dois lados da rua se torna um transtorno, ou quando a tristeza vira depressão clínica, ou a timidez se torna autismo. Estudos familiares e com gêmeos mostram que traços autistas estão distribuídos em toda a população, especialmente entre parentes de pessoas diagnosticadas.
Questões socioculturais também influenciam a forma como definimos e tratamos o que chamamos de autismo. Entre os Navajo, já foi visto como um estado de transformação; em algumas regiões da África subsaariana, associado à possessão espiritual; em comunidades ultraortodoxas de Israel, como uma habilidade de se conectar a Deus. Até o início deste século, a psiquiatria francesa classificava o autismo como um transtorno psicótico.
Ao contrário da fala de Trump de que haveria grupos sem autismo por não tomarem vacinas, sabemos que os sintomas existiam muito antes da invenção da primeira vacina, no século 18, e certamente antes do termo ser criado no século 20.
Nos EUA, raça e renda também moldaram quem era reconhecido como autista. Crianças negras, por exemplo, eram mais propensas a receber diagnósticos de “transtorno de conduta” ou “distúrbio emocional” do que de autismo, muitas vezes por vieses clínicos e culturais que associavam erroneamente crianças de minorias a comportamentos disruptivos.

Estimativas recentes sugerem que essas diferenças raciais têm diminuído, um bom sinal de que crianças antes negligenciadas estão finalmente sendo identificadas e recebendo serviços.
Ao contrário da fala de Trump de que haveria grupos sem autismo por não tomarem vacinas, sabemos que os sintomas existiam muito antes da invenção da primeira vacina, no século 18, e certamente antes do termo ser criado no século 20.
Nos EUA, raça e renda também moldaram quem era reconhecido como autista. Crianças negras, por exemplo, eram mais propensas a receber diagnósticos de “transtorno de conduta” ou “distúrbio emocional” do que de autismo, muitas vezes por vieses clínicos e culturais que associavam erroneamente crianças de minorias a comportamentos disruptivos.
Estimativas recentes sugerem que essas diferenças raciais têm diminuído, um bom sinal de que crianças antes negligenciadas estão finalmente sendo identificadas e recebendo serviços.
É urgente estudar como pessoas autistas mudam ao longo da vida e quais tratamentos e serviços as ajudam a prosperar. A pesquisa sempre focou nas crianças, mas a capacidade de mudança não termina aos 21 anos. Isabel é hoje uma das pessoas mais felizes e ocupadas que conheço, e muitos de seus avanços aconteceram já na vida adulta.
A história do autismo também sugere que precisamos ter expectativas realistas quanto ao ritmo da ciência. A genética e a neurociência já produziram descobertas impressionantes, mas poucas foram traduzidas em novos tratamentos. Boa ciência leva anos, não meses.
O que mais importa para Isabel não é encontrar culpados, até porque ela gosta de quem é. O que importa é continuar construindo uma vida significativa com os apoios sociais e as oportunidades que antes eram negados a pessoas autistas.
Avançamos demais para voltar ao tempo em que o autismo era uma condição estigmatizada, definida apenas por déficits; em que mães eram culpadas; em que a pressão pela conformidade superava o valor da diversidade; em que uma única voz dominava o debate; e em que as pessoas mais afetadas eram excluídas das decisões e narrativas que moldavam suas próprias vidas.
FONTE: https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2025/09/25/o-autismo-sempre-existiu-mas-nem-sempre-o-chamamos-assim-o-relato-de-um-pai-sobre-as-falhas-no-diagnostico-da-filha-nos-anos-1990.ghtml